| CAPÍTULO VI (CONTINUAÇÃO) A LÓGICA DOS QUATRO CAVALEIROS |
||
| PEDRO, JOÃO E HENRIQUE |

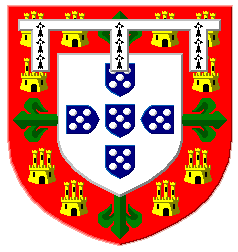 Um
importante resultado da charada local do painel dos Cavaleiros é
a aquisição do significado familiar que dele decorre e nos
sugere, pela primeira vez, as motivações por trás de todo o enigma.
Não faremos aqui, porque ultrapassaria o âmbito
de análise lógica interna do políptico que nos propusemos,
uma longa interpretação das lutas entre o poder real apoiado
nas vilas e cidades do reino através de um poderio burguês
nascente, por um lado, e uma aristocracia desejosa de reconquistar as posições
e privilégios abalados pela movimentação política
e social que acompanhou a revolução dinástica de Avis,
por outro.
Um
importante resultado da charada local do painel dos Cavaleiros é
a aquisição do significado familiar que dele decorre e nos
sugere, pela primeira vez, as motivações por trás de todo o enigma.
Não faremos aqui, porque ultrapassaria o âmbito
de análise lógica interna do políptico que nos propusemos,
uma longa interpretação das lutas entre o poder real apoiado
nas vilas e cidades do reino através de um poderio burguês
nascente, por um lado, e uma aristocracia desejosa de reconquistar as posições
e privilégios abalados pela movimentação política
e social que acompanhou a revolução dinástica de Avis,
por outro.
Limitamo-nos a referir brevemente factos históricos relevantes que não são controversos, e entre eles revestem-se de particular interesse para os nossos fins os que dizem respeito às dissensões familiares entre os descendentes de D. João I. Interessa-nos, por assim dizer, a micro-história familiar, por trás ou ao lado dos grandes acontecimentos, porque através dela se pode localizar e compreender a intenção do políptico. O registo histórico a que os sucessores de Fernão Lopes procederam é extremamente informativo, uma vez que tanto Zurara (de um ponto de vista favorável à recuperação de posições da nobreza, durante o reinado de D. Afonso V) como Rui de Pina (do ponto de vista oposto, favorável à acção de D. João II e do falecido regente) centram as suas crónicas nos protagonistas palacianos, e detalham vários episódios que iluminam os misteriosos painéis.
Mais uma vez, não nos cabe tomar partido quando se trata de compreender a mensagem por detrás da charada, e é igualmente inadmissível que a mesma seja escondida só porque contradiz as mitologias oficiais em vigor: se a efígie do infante D. Henrique no políptico das Janelas Verdes se encontra efectivamente em desgraça aos pés dos seus irmãos, este é seguramente um indício importante para averiguar a origem do maior mistério iconográfico da história. Antes de apertarmos as malhas significativas em torno do infante navegador e de o fazermos aportar a terra firme, procuraremos pois recordar alguns dados históricos indispensáveis ao relacionamento das quatro figuras representadas no painel dos Cavaleiros.

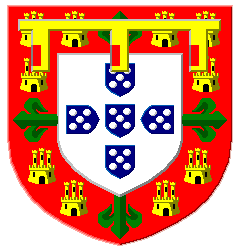 A
mútua devoção entre o infante D. Pedro e o seu irmão
João é expressamente referida por Rui de Pina, e parece ter
sido acompanhada por uma sintonia política perfeita. Na sua qualidade
de infante e Condestável do reino (1),
D. João era uma figura prestigiada e poderosa e o seu apoio durante
o conflito que se seguiu à morte de D. Duarte, entre a viúva
do falecido monarca e o futuro regente, parece ter sido crucial. A ele
se deve o aproveitamento da revolta de Lisboa à cabeça da
qual se colocou, quando a cidade sublevada e sob seu comando forçou
a rendição dos partidários da rainha que ocupavam
o castelo. Instado a assumir ele próprio a regência, solução
de compromisso que a rainha e seus partidários declaravam aceitar,
já que afastava o odiado duque de Coimbra do poder, a sua fidelidade
ao irmão transparece nas palavras indignadas que Pina lhe atribui:
A
mútua devoção entre o infante D. Pedro e o seu irmão
João é expressamente referida por Rui de Pina, e parece ter
sido acompanhada por uma sintonia política perfeita. Na sua qualidade
de infante e Condestável do reino (1),
D. João era uma figura prestigiada e poderosa e o seu apoio durante
o conflito que se seguiu à morte de D. Duarte, entre a viúva
do falecido monarca e o futuro regente, parece ter sido crucial. A ele
se deve o aproveitamento da revolta de Lisboa à cabeça da
qual se colocou, quando a cidade sublevada e sob seu comando forçou
a rendição dos partidários da rainha que ocupavam
o castelo. Instado a assumir ele próprio a regência, solução
de compromisso que a rainha e seus partidários declaravam aceitar,
já que afastava o odiado duque de Coimbra do poder, a sua fidelidade
ao irmão transparece nas palavras indignadas que Pina lhe atribui:
«E quanto às outras coisas que da parte da Senhora Rainha me dissestes, dizei a sua Senhoria que nunca Deus queira nem quererá que entre os filhos del-rei D. João, que nas mocidades em tanto amor e concórdia se criaram, seja agora semeada tal cizânia, porque se desamem e desconcertem; eu haveria temor de Deus e vergonha do mundo, não digo aceitar, mas somente lembrar-me de aceitar o regimento do reino em que tivesse dois irmãos mais velhos e tais para isso como são o infante D. Pedro e o infante D. Henrique».
Rigorosamente verídico ou não, o episódio que o cronista descreve traduz o que foi certamente uma ligação profunda entre os dois irmãos, e é este o aspecto que nos interessa. O contraste com o comportamento do infante D. Henrique é por demais evidente. Embora até à data fatídica de Alfarrobeira, este último jamais se tenha encontrado no campo dos opositores ao seu irmão, a verdade é que o seu papel é quase sempre referido como de apoio hesitante, porventura de mediação prudente entre o infante D. Pedro e os seus inimigos, à cabeça dos quais se encontraram o meio-irmão bastardo de ambos, o conde de Barcelos (mais tarde investido como duque de Bragança) e seu filho, o conde de Ourém.

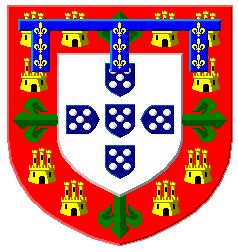 As
opiniões e posições públicas assumidas pelo
infante D. Henrique colidem, de resto, quase sempre com as de Pedro e João.
Quando se debate a oportunidade da expedição de Tânger,
em vida de D. Duarte, o rei mostra-se hesitante e inclinado a aceitar o
ponto de vista que ambos defendem. As palavras que Pina atribui ao duque de Coimbra
e ao seu irmão Condestável revelam-se surpreendentes, pela
sua acuidade política no primeiro caso, pela invulgar postura de
natureza moral no segundo:
As
opiniões e posições públicas assumidas pelo
infante D. Henrique colidem, de resto, quase sempre com as de Pedro e João.
Quando se debate a oportunidade da expedição de Tânger,
em vida de D. Duarte, o rei mostra-se hesitante e inclinado a aceitar o
ponto de vista que ambos defendem. As palavras que Pina atribui ao duque de Coimbra
e ao seu irmão Condestável revelam-se surpreendentes, pela
sua acuidade política no primeiro caso, pela invulgar postura de
natureza moral no segundo:
Pedro: «(...) mas posto caso que passásseis e tomásseis Tânger, Alcácer, Arzila, queria, Senhor, saber que lhes fariéis, porque povoardelas com reino tão despovoado e minguado de gente como é este vosso, é impossível: e se o quiserdes fazer, seria torpe comparação, como de quem perdesse boa capa por mau capelo, pois era certo perder-se Portugal e não se ganhar África».
João: «(...) deviéis, Senhor, considerar em caso que vossa tenção e dalguns outros seja servir a Deus nesta guerra, que essa não é a de todos; que uns irão por desejo de honra, outros com esperança de ganho e os mais (...) irão arrenegando, forçados de vosso medo sem a limpeza e liberdade das vontades que em tal guerra de necessidade se requer; pois Senhor, quem matasse mouro com tal tenção não pecaria menos que se fosse cristão (...) a Santa Escritura por pregações e virtuosos exemplos os manda converter, e se por outra maneira Deus fora servido, permitira e mandara que em seus erros e danada contumácia usaramos de nossas forças e ferro até serem convertidos à sua fé, e isto ainda não vi nem ouvi que se achasse em verdadeira Escritura (...)».
É através da influência da rainha D. Leonor que o infante D. Henrique faz vingar o seu ponto de vista e de seu irmão D. Fernando. Embora relutante, o rei dá o seu consentimento e a expedição comandada por D. Henrique com D. Fernando a seu lado, parte de Ceuta em 1437, por terra e por mar, rumo a Tânger e ao que viria a ser o pior desastre português em África até à data de Alcácer-Quibir. Deixando-se isolar do acesso ao mar na zona em que controem o seu palanque de protecção e transformando-se de sitiantes em sitiadas sem hipótese de retirada, as forças de D. Henrique são cercadas, e o infante vê-se obrigado a prometer a paz e a restituição de Ceuta, e a entregar o seu irmão como penhor dessa promessa para poder embarcar os seus homens e regressar a Portugal, trazendo consigo, por sua vez, reféns inimigos entre os quais o filho mais velho de Sala Ben Sala, governador de Tânger (2).

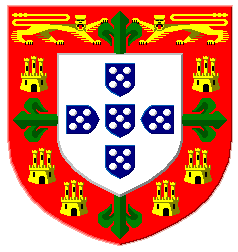 Mais
uma vez, durante o debate que em Portugal tem curso nos anos seguintes,
as opiniões de D. Pedro e D. João convergem e contrariam
a de D. Henrique, partidário da cruzada contra o infiel a todo o
custo.
Mais
uma vez, durante o debate que em Portugal tem curso nos anos seguintes,
as opiniões de D. Pedro e D. João convergem e contrariam
a de D. Henrique, partidário da cruzada contra o infiel a todo o
custo.
Nas cortes de Leiria, D. Duarte justifica a situação criada em que «por remédio e salvação de todos foi necessário prometer-se a cidade de Ceuta com todos os mouros cativos deste reino, e assim deu-se o infante D. Fernando, seu irmão, por segurança disso». Diz ainda o rei que «defendera ao infante D. Henrique que, ao cercar o lugar, não deixasse o mar, e sobre ele não estivesse mais que oito dias (...) mas segundo soubera o infante não achara tal disposição (...) E porém, como quer que fosse, o feito estava naquele ponto que sabiam, para cujo remédio queria seu conselho».
O conflito entre os irmãos torna-se nítido quando se discutem as acções possíveis. É ainda Rui de Pina que refere as opiniões em confronto: «(...) o infante devia ser tirado de cativo e dar-se Ceuta por ele, sem alguma mais detença nem impedimento (...) que o contrato feito com os mouros e firmado pelo infante D. Henrique com todolos outros principais que com ele eram, sendo quebrado e não mantido, trazeria grande infâmia a el-rei e seu reino e naturais, e nesta tenção foram o infante D. Pedro e o infante D. João, com alguns dos principais, e seguiram no amor parte das cidades e vilas do reino».
As opiniões contrárias às expressas por Pedro e João incluem a oposição frontal ao cumprimento do contrato, ou o seu adiamento de forma a permitir a consulta ao papa e aos teólogos, com vista a determinar a sua legitimidade, uma vez que implicava a restituição de território em mãos cristãs a inimigos da fé. Quanto a D. Henrique, ainda segundo Pina, o rei «achou o infante muito firme em Ceuta por alguma maneira não se dar aos mouros, assim por não ser serviço de Deus principalmente, como por eles quebrarem e não guardarem o contrato» (3). A posição do infante D. Henrique é pois a de oposição frontal ao cumprimento do acordo por si próprio firmado, admitindo apenas o resgate em dinheiro, ou de novo o recurso à força com auxílio de outros reis cristãos, o que se traduziria em «passar mui poderosamente em África, que não era mais gente necessária que 24.000 homens».
As posições são portanto muito bem definidas, e mais uma vez Pedro e João se encontram em perfeita sintonia no campo oposto ao do infante D. Henrique. A posição deste último, responsável principal pelo desastre, responsável igualmente pelo acordo em que se consentiu que D. Fernando se entregasse aos mouros (4), e finalmente em oposição declarada ao cumprimento do acordo firmado pelo seu próprio punho, o que implicaria com toda a probabilidade a morte do seu irmão mais novo, parece indefensável. No entanto, as únicas razões imagináveis para semelhante conduta são as que brotam da convicção interior independente de astúcias ou interesses, e não pretendemos aqui reduzir o infante à condição de oportunista ou perjuro.
| Pretendemos, isso sim, salientar a forma como as relações
entre os irmãos históricos parecem condizer com a representação
das figuras do painel dos Cavaleiros: debaixo da égide de Fernando,
lado a lado, Pedro e João identificados um com o outro, na pintura
como na vida, através da sua pose, das guardas das suas espadas,
iguais no formato e com punhos decorados de modo análogo (fios de
ouro para D. Pedro, fios de prata para D. João), dos seus barretes
erectos e das suas luvas brancas (mãos limpas para ambos), todos esses
elementos visuais sublinhando a proximidade das duas figuras.
E ajoelhado no primeiro plano, D. Henrique, com a sua espada torcida decorada com fios negros, em cabelo e sem luvas, e com a expressão contrariada de quem é forçado a penitenciar-se, contra a sua vontade e perante a posteridade, através de uma pintura com o poder de fazer viajar no tempo. A enorme importância do painel dos Cavaleiros consiste em nos fornecer as pistas necessárias à confirmação da existência da charada e do seu simbolismo intrincado, apontando simultaneamente a intenção familiar do políptico que adiante abordaremos, com todas as suas implicações a nível de autoria e origem geográfica da obra. |
Dos seis irmãos da Ínclita Geração, o primeiro a morrer, em 1438, depois de um curto reinado de cinco anos ensombrado pelo desastre de Tânger, foi o rei D. Duarte.
Seguiu-se-lhe o infante D. João, falecido de doença, em 1442, durante a regência de D. Pedro. «E o que de sua morte e privação mostrou sobre todos ser mais triste e enojado foi o infante D. Pedro que era em Coimbra, onde como soube de seu falecimento, caiu de verdadeiro nojo em cama à morte, não havendo sua enfermidade outra causa, e não era sem razão, porque eram irmãos que sem cautela (5) e muito verdadeiramente se amavam e foram em tudo mui conformes». Assim descreveu Rui de Pina a reacção do regente ao falecimento do Condestável seu irmão.
Também D. Fernando, cativo em Fez, recebe com grande desgosto as notícias da morte dos seus irmãos, e a sua própria morte, em 1443, segue de perto a de D. João.
Da plêiade de filhos legítimos de D. João I, restam apenas à data de Alfarrobeira, em 1449, o ex-regente D. Pedro, o infante D. Henrique, e Isabel, duquesa de Borgonha. A tragédia de que resulta a morte do infante D. Pedro tem como consequência uma nova ascensão da nobreza que virá a caracterizar o reinado de D. Afonso V, mas as suas causas próximas têm características de disputa familiar à sombra do ideário da cavalaria, conforme passamos a narrar.
A longa inimizade entre o infante D. Pedro e o conde de Barcelos, filho bastardo e primogénito – uma conjunção porventura difícil que parece tê-lo marcado para a vida – de D. João I, é uma chave essencial à compreeensão dos acontecimentos históricos, e como tal frequentemente mencionada pelos cronistas.

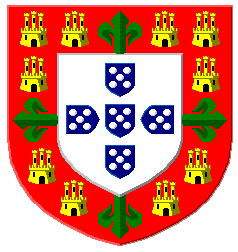 Logo
depois da morte de D. Duarte, durante o conflito entre a rainha viúva
e D. Pedro, tem lugar um episódio que dificilmente poderia ser esquecido
por algum dos intervenientes e se revela, conforme adiante veremos, indispensável
à compreensão de certos pormenores do desenho subjacente
de D. Afonso V, no painel dos Reis. Nesse episódio descrito por Pina,
o conde de Barcelos, apoiante de D. Leonor, desejoso de casar
a sua própria neta com o rei D. Afonso V – então criança
e prometido contratualmente à filha de D. Pedro – procura o seu
meio-irmão e exige-lhe, em nome da rainha, a devolução
do alvará da promessa de casamento. O acto do infante D. Pedro,
que responde rasgando o documento ao invés de o devolver intacto,
acompanha as suas palavras: «O alvará que dizeis é
em meu poder, e eu se quisesse justa e honestamente podia denegar à
senhora rainha a entrega dele (...) porém por que não pareça
que eu por força tomo o que com razão me devia ser requerido e dado, dai a
sua Senhoria o seu alvará, e irá roto e não são
a seu poder, em testemunho da quebra de sua verdade que me quebrou».
Logo
depois da morte de D. Duarte, durante o conflito entre a rainha viúva
e D. Pedro, tem lugar um episódio que dificilmente poderia ser esquecido
por algum dos intervenientes e se revela, conforme adiante veremos, indispensável
à compreensão de certos pormenores do desenho subjacente
de D. Afonso V, no painel dos Reis. Nesse episódio descrito por Pina,
o conde de Barcelos, apoiante de D. Leonor, desejoso de casar
a sua própria neta com o rei D. Afonso V – então criança
e prometido contratualmente à filha de D. Pedro – procura o seu
meio-irmão e exige-lhe, em nome da rainha, a devolução
do alvará da promessa de casamento. O acto do infante D. Pedro,
que responde rasgando o documento ao invés de o devolver intacto,
acompanha as suas palavras: «O alvará que dizeis é
em meu poder, e eu se quisesse justa e honestamente podia denegar à
senhora rainha a entrega dele (...) porém por que não pareça
que eu por força tomo o que com razão me devia ser requerido e dado, dai a
sua Senhoria o seu alvará, e irá roto e não são
a seu poder, em testemunho da quebra de sua verdade que me quebrou».
Foi Isabel, a filha de D. Pedro, que veio a casar com o rei em 1447, quando D. Afonso V atingiu a maioridade e recebeu o governo do reino, mas não tinham sido apenas os adeptos do regente a prosperar durante os anos em que este exerceu o poder. Os dois primeiros ducados portugueses (Coimbra e Viseu) haviam sido criados por D. João I para os seus filhos Pedro e Henrique. Ao criar o terceiro ducado (Bragança) e atribuí-lo ao conde de Barcelos, o regente mostrou um claro desejo de reconciliação com o seu meio-irmão bastardo, mas, como tantas vezes sucede, as concessões, nobres mas imprudentes, apenas reforçaram o poder dos seus inimigos, e em vez de os apaziguar tiveram como resultado o aumento da sua ambição e hostilidade.
O rápido crescimento do poderio da casa de Bragança teve como resultado uma oposição cada vez mais forte do novo duque e do seu filho mais velho, o conde de Ourém (6), ao regente. Novas fontes de conflito surgem, mostrando a desmesurada ambição do velho bastardo de D. João I e a forma como se estendia ao seu filho. Por falecimento do filho do infante D. João, Condestável do reino como o pai, vagara o cargo, e D. Pedro destinara-o ao seu próprio filho mais velho – igualmente de nome Pedro – não atendendo o desejo do conde de Ourém que o pretendia para si, e respondendo-lhe que seria, por morte de seu pai, uma vez duque e duas vezes conde, e que isso lhe deveria bastar. Dessa confrontação resultou o abandono da corte por parte do conde de Ourém, que se retirou para as suas terras, onde aguardou a hora do ajuste de contas.
E essa hora chegou quando D. Afonso V atingiu a idade de governar e o duque de Coimbra se retirou, por sua vez, para o seu ducado. A narrativa das intrigas conduzidas pela facção chefiada pelo conde de Ourém e seu pai, o duque de Bragança, destinadas a abater o ex-regente e conduzir o jovem rei a repudiar a sua filha, não tem aqui cabimento. A das manobras em sentido oposto, destinadas a prolongar o papel de D. Pedro junto do rei, tão-pouco.
Basta-nos referir que falhadas todas as tentativas de prolongar a influência de D. Pedro junto de D. Afonso V – cada vez mais rodeado pelos adeptos de sua falecida mãe – e iniciada a perseguição aos homens do duque de Coimbra, este último é colocado entre a espada e a parede pela ordem de desarmamento que lhe é enviada pelo rei, chegando a encontrar-se em situação de confronto armado iminente com o duque de Bragança, que entretanto pretendera atravessar as suas terras em aparato de guerra.
Terminada essa primeira ameaça de batalha pela debandada das forças do velho bastardo de D. João I, obrigado a uma fuga ignominiosa, impedida a perseguição pelo próprio ex-regente que assim contraria os desejos do conde de Avranches, seu amigo, adepto e confrade na Jarreteira, a ordem de desarmamento do rei mantém contudo o infante D. Pedro perante uma muito difícil escolha: a mercê dos seus inimigos ou a situação de rebeldia.
No conselho realizado em Coimbra pelo círculo de D. Pedro, é tomada a decisão de seguir a proposta que Álvaro Vaz de Almada, conde de Avranches e indefectível companheiro do ex-regente, apresenta. Nas palavras que lhe são atribuídas por Rui de Pina: «Que mandasse a el-rei pedir e requerer que com justiça o ouvisse com seus inimigos, que lhe tão sem causa tanto mal ordenavam ou lhe desse com eles campo (...) E que quando el-rei alguma destas coisas não houvesse por bem, e todavia quisesse vir sobre ele, que então defendendo-se morressem no campo como bons homens e honrados cavaleiros». Jurando «pela irmandade na santa e honrada ordem da Garroteia em que somos confrades», duque de Coimbra e conde de Avranches ligam os seus destinos na morte que pressentem próxima, e que ambos encontrarão no campo de batalha.
No dia 5 de Maio de 1449, o duque de Coimbra, acompanhado pelo seu filho Jaime, e pelos adeptos que à sua volta se reunem, sai da sua cidade à frente de uma força de 6.000 homens. As suas bandeiras proclamam «LEALDADE» de um lado, «JUSTIÇA E VINGANÇA» do outro, e antecipam-se à anunciada marcha do rei que tinha – talvez pensando na sua mãe e não compreendendo o Désir do tio – Jamais por divisa.
Mas o seu irmão Henrique, evasivo e neutro durante a última crise em que o ex-regente se vê isolado em Coimbra pelos seus inimigos, encontra-se desta vez ao lado destes últimos, e contribui com as suas forças para o exército de 30.000 homens que, a 20 de Maio, cerca as posições ocupadas por D. Pedro perto da ribeira de Alfarrobeira. Verificam-se deserções de ambos os lados: as forças do duque enfraquecidas pela desmoralização dos soldados, as do rei pela perda de um pequeno grupo que atravessa as linhas e se junta ao ex-regente na última hora, grupo esse de que Rui de Pina cita os nomes dignos de memória, um por um e com intenção inequívoca de não permitir o seu esquecimento.
Nos primeiros instantes do combate, o duque de Coimbra cai, mortalmente atingido por um projéctil inimigo, e o fiel conde de Avranches segue-o de perto, procurando, ao que rezam as crónicas, mergulhar sózinho na mais densa concentração inimiga com que depara. A batalha, que parece não ter sido muito sangrenta, é abreviada pelo facto de o chefe de um dos lados encontrar rapidamente a morte. A derrota, no entanto, é total: as terras do duque de Coimbra são partilhadas de imediato pelos vencedores, e muitos dos seus adeptos vêem confiscadas as suas posses e são condenados ao desterro.
Da geração legítima do rei de Boa Memória, apenas se encontram em vida no período que se segue ao embate de Alfarrobeira, o infante D. Henrique em Portugal e Isabel na Borgonha. O primeiro torna-se a figura mais venerada e respeitada em Portugal, a seguir ao rei e a par da casa de Bragança, e, interrompidas as explorações do litoral africano, retomados os projectos de conquista de Marrocos, morre em 1460 rodeado de honrarias – dois anos depois de reviver o seu velho sonho de cruzada e entrar em Alcácer-Ceguer ao lado de D. Afonso V e de D. Pedro, filho do defunto regente, regressado a Portugal depois do levantamento da pena de exílio em que incorrera. A segunda sobrevive a todos os seus irmãos, falecendo nos seus domínios dos países baixos borgonheses em 1471, quatro meses depois da entrada triunfal de D. Afonso V e seu filho, o futuro D. João II, em Arzila e Tânger. Dos seis irmãos, só ela se encontra em vida entre 1465 e 1467 – data provável do políptico – tendo presenciado a queda de D. Pedro, acolhido na sua própria corte três dos seus filhos, ajudado activamente os refugiados de Alfarrobeira, e chegado a enviar a Portugal um embaixador com a missão de reclamar o cadáver do irmão, a fim de lhe dar sepultura condigna em solo borgonhês.
Procurámos assim sintetizar de forma breve os antecedentes e consequências de Alfarrobeira, porque se as identificações das figuras do políptico são correctas, ficam claras as intenções por detrás da charada. Que numa composição, concebida à primeira vista como de união em torno de D. Afonso V, figurassem os quatro tios do rei e nenhum dos vencedores de Alfarrobeira que enquadraram e influenciaram a sua acção nesse difícil transe, pareceria certamente estranho, se não admitíssemos o seu significado familiar, sublinhado pela forma como os vários irmãos da Ínclita Geração nela estão representados.
O contexto, a óptica da Ínclita Geração, muito mais presente no políptico que qualquer outro ponto de vista, tornará evidente a sua mensagem e a razão por que o infante D. Henrique se encontra caracterizado de uma forma sempre negativa, mas que em tudo se integra na teia simbólica que engloba as outras figuras. Retomemos as figuras de Pedro, João e Henrique, e vejamos como as duas primeiras se assemelham entre si, e se opõem à terceira:
A forma como múltiplos outros elementos da representação pictórica reforçam o estatuto conferido às figuras pelas ordens de cavalaria codificadas não é um mero acaso. O carácter emblemático da representação de luvas em imagens de juizes, por exemplo, é referido por Philippe Contamine em comentário incluído no resumo de uma comunicação de Werner Paravicini (1995), a propósito de uma interessantíssima pintura sobre pergaminho de origem borgonhesa datada de cerca de 1467. Essa invulgar pintura, que adiante iremos referir em pormenor, está, em nossa opinião, ligada aos painéis das Janelas Verdes, dada a sua proximidade conceptual ao políptico de Lisboa. Nela, uma figura humana portadora de dois objectos simetricamente simbólicos (um dos quais um livro legível ostensivamente exibido para fora da pintura) recorda a organização bilateral do políptico, uma vez que está cindida verticalmente em duas metades que se espelham, sugerindo os papéis paralelos de cavaleiro e juíz numa mesma personagem.
A visibilidade das luvas num único painel do políptico, e justamente em duas figuras tão próximas como as de Pedro e João, mostra pois a intenção de aproximar os seus possuidores, já de si tão similares em suas atitudes e tão distintos do irmão em desgraça, atribuindo-lhes um ascendente moral sobre este último. Como o formato das espadas, as marcas colocadas sobre as suas guardas são outras tantas pistas, reforçando não só a diferença entre as duas facções morais subtilmente representadas, mas também a compreensão da hierarquia e precedência familiar dentro das mesmas: no caso de D. Henrique formato diferente (espinhoso, como angular é o das próprias guardas), mas marcas em número de três, como para D. Pedro. E para D. João, uma única marca, mas análoga às de D. Pedro (circulares e perfeitas), reforçando o paralelismo em que os fios ornamentais de prata se subordinam aos de ouro, mas proporcionam, como eles, o contraste com os abundantes fios negros da espada de pomo torcido.
Note-se ainda que a pose do ex-regente é ambígua, mas note-se igualmente que essa ambiguidade se encontra carregada de sentido: está ajoelhado mas apenas nos apercebemos disso pela sua estatura diminuída, uma vez que as pregas verticais da sua indumentária lhe conferem uma pose erecta que o aproxima da silhueta de D. João, como se os dois irmãos montassem a guarda sobre o infante D. Henrique, esse sim, inequivocamente de joelhos (e sobre os dois joelhos) perante alguma cena imaginária que só eles – e os que resolverem a charada – poderão ver no centro do políptico.
A leitura isolada do painel dos Cavaleiros não nos afasta de modo algum do simbolismo presente nos restantes painéis. Muito pelo contrário, as chaves que vamos reunindo são confirmadas ao longo de todo o políptico e abrem-nos novas portas. Considere-se, por exemplo, a interpretação que damos às espadas dos cavaleiros e aos enfeites que apresentam. Não existe símbolo mais directamente ligado ao carácter, ao nobre coração do verdadeiro cavaleiro, do que a espada, sua permanente companheira. Como diz Ramon Lull no seu Livro da Ordem de Cavalaria escrito no séc. XIII: «A espada do cavaleiro significa que o cavaleiro deve manter com a espada a Cavalaria e a Justiça». Que a espada que tem o pomo torcido se confunda e desapareça atrás de um cinto em desalinho não deve espantar ninguém, mas poderão os ornamentos presentes nos punhos das outras espadas ao longo do políptico confirmar o significado que lhes atribuímos no painel dos Cavaleiros? Vejamos:
| CATÁLOGO DAS ESPADAS | |

|
|
| ESPADAS | FIOS E ORNAMENTOS |
| 1 - Rei (D. Afonso V) | Ouro |
| 2 - Príncipe (futuro D. João II) | Ouro (nascentes) |
| 3 - Regente (D. Pedro) | Ouro (abundantes) |
| 4 - Condestável (D. João) | Prata |
| 5 - Cavaleiro caído (D. Henrique) | Negros (abundantes) |
| 6 - Soldado | Sem fios nem ornamentos |
| 7 - Soldado | Sem fios nem ornamentos |
| 8 - Jovem soldado | ? (Troço de bainha) |
Se o ouro parece caracterizar os que estão ligados à governação, ao regimento do país, e a sua abundância parece representar o apreço que o autor da charada dedica a cada um deles, o que poderá representar o negro senão a confirmação do pomo torcido e de todas as outras anomalias da figura roxa?
Se o leitor compreender que a charada é exaustiva e que é necessário procurar os mais ínfimos detalhes para a captar de forma completa, deverá dedicar algum tempo ao exame das diversas espadas porque elas reflectem de tal modo o estatuto de cada personagem que, mais uma vez, a intencionalidade se torna patente através até do que se não vê: será possível, por exemplo, garantir que as espadas dos soldados que se reúnem à volta da corda, sejam – ao contrário das de reis e cavaleiros – desprovidas de ornamentos? Uma delas, no primeiro plano, está completamente visível, as suas guardas têm um aspecto simplificado e mais pobre que as espadas de reis e cavaleiros, mas embora o seu pomo esteja à vista, a mão da figura a que pertence tapa o punho e não nos permite afirmar, com absoluta certeza, a inexistência de fios! Note-se que essa inexistência está implícita na ausência das pontas de fios que deveriam ficar visíveis ao nível das guardas (compare-se com as outras espadas), mas mais uma vez se verifica a permanente regra da irresolução 📜 que atrás enunciámos, funcionando como confirmação para os que a compreendem, como possibilidade de retirada ingénua para os que receiam compreender o que quer que seja.
Das restantes duas espadas parcialmente visíveis no painel dos soldados, ambos os punhos se encontram ocultos e, em particular, a intenção de ocultação é denunciada pela forma como se exibe uma única das guardas de uma delas, pertencente ao soldado de couraça e barrete que ocupa o segundo plano. Note-se que a presença de uma terceira espada no painel dos soldados se adivinha apenas devido à presença de um pequeno e obscuro troço de bainha pertencente à figura do jovem com o inverosímil barrete cindido. Esse estranho troço de bainha, devido ao carácter quase forçado do seu desenho, tem sido muitas vezes minimizado como um pretenso acrescentamento espúrio (7) à pintura original, mas a verdade é que a sua inclusão é inteiramente coerente com o papel que o jovem assume numa fase posterior da decifração, dada a necessidade de o armar de forma nobre e simbólica do seu estatuto, que adiante explicaremos em detalhe. Limitemo-nos, por agora, a salientar que esta é a única das oito espadas presentes nos painéis de que não se avista sequer, et pour cause, o punho ou as guardas.
Três espadas presentes no painel dos soldados, portanto, e em nenhuma delas – ao contrário do que sucede com as restantes cinco dos painéis vizinhos – podemos provar a presença ou ausência de fios e ornamentos! Melhor conjugação de uma mensagem subtil com a irresolução 📜 omnipresente não seria possível...
As três lanças visíveis, por outro lado, todas elas no painel dos soldados, iguais entre si e sem qualquer originalidade, recordam-nos a diferença entre os dois tipos de armas presentes nos painéis: cada espada está tão individualizada como o rosto do seu dono (8), enquanto que as lanças são usadas como armas preferenciais para reforçar o estatuto igualitário do único painel onde figuram. Aos leitores que compreendem a importância dos pormenores significativos, recomendamos que percam alguns tempo observando cada uma das armas representadas, especialmente a mais bela e brilhante das espadas, na mão do cavaleiro da pérola, e a pequena espada com fios dourados – mas nascentes e como que ainda incompletos – sobre cujo terço o seu jovem neto, também ele portador de uma pérola, pousa a mão... mas permitindo, desta feita, a visão completa e perfeita do respectivo punho e ornamentos.
Diz-se por vezes que o pintor é extremamente realista só porque alguns dos rostos (os que ele assim desejou) se apresentam desfavorecidos, mas seria mais correcto referir o seu extremo psicologismo, pois não só os rostos, mas os próprios objectos inanimados, possuem e projectam uma vida própria: a espada de D. Afonso V, à semelhança da do seu filho e da do seu tio e sogro, o infante D. Pedro, possui fios de ouro, mas escassos e gastos, como que mortiços ou rarefeitos, compensados por algumas tiras de tecido dourado únicas ao longo de todo o políptico, indicando que o cargo que desempenha, o facto de ser a cabeça coroada do reino, lhe confere uma distinção especial, mas não a profusão de ouro e o fulgor sem paralelo da espada do falecido regente. A verdadeira vida que o pintor comunicou ao cavaleiro da pérola não se adivinha no seu rosto hierático, nem no seu olhar apontado ao observador mas focado nalgum horizonte mais longínquo: pressente-se, isso sim, na sua espada e na forma como ela lhe pertence e se distingue de todas as outras.
A leitura puramente psicológica ou intuitiva pode ser discutível e arriscada, mas é muitas vezes necessária em arte. Quando se trata de decifrar uma charada concebida em termos de lógica rigorosa e decifrável pela economia das suas redundâncias subtis, no entanto, a situação poderá ser ainda mais delicada. O risco de construirmos a nossa própria teia, progressivamente afastada das intenções que povoaram a mente do autor, é real, e a sua inserção no processo de decifração deve ser evitada. Felizmente para nós, o políptico permite algo de único em toda a história da arte: através do rigor exaustivo com que o pintor e os seus mentores construíram e sobrepuseram camadas de significação que mutuamente se reforçam, podemos tentar a leitura directa e intuitiva, e vê-la confirmada, como por magia, pela simples dedução lógica. Os dois exemplos com que, a seguir, encerramos a análise do painel dos Cavaleiros servirão para ilustrar este ponto.
NOTAS
1) ![]() Note-se a forma como D. João está retratado como militar,
ao passo que D. Pedro tem uma representação
«civilista», com um colar que sugere o legislador (feito de
elementos que lembram o formato das tábuas da Lei).
Note-se a forma como D. João está retratado como militar,
ao passo que D. Pedro tem uma representação
«civilista», com um colar que sugere o legislador (feito de
elementos que lembram o formato das tábuas da Lei).
2) ![]() Conforme se pode ler no auto de capitulação e acordo de paz durante cem anos firmado,
em desespero de causa, pelo infante D. Henrique, com o acordo do seu irmão e do seu
conselho, o filho de Sala Ben Sala deveria ficar refém apenas até ao embarque a salvo
dos portugueses, com entrega na praia de todas as armas, animais e bagagens, levando
apenas consigo «as roupas que pudessem levar vestidas»; e quatro cavaleiros fidalgos
portugueses deveriam ficar reféns dos mouros por ele, apenas até ao seu retorno.
Por sua vez, o infante D. Fernando – com os acompanhantes da sua casa, entre os quais o seu
secretário João Álvares e o físico mestre Martinho, filho de Fernão Lopes – ficaria refém pelo
cumprimento do acordo até à entrega de Ceuta. Depois dos derradeiros combates na praia,
no entanto, os portugueses consideraram que o acordo tinha sido quebrado na sua totalidade,
a frota levantou ferro, e nenhum dos reféns, de uma ou outra parte, foi trocado nos termos
acordados. A partir daí e da recusa de entrega de Ceuta, todos os resgates levados a cabo foram
pontuais, através de pagamentos ou trocas de prisioneiros.
Conforme se pode ler no auto de capitulação e acordo de paz durante cem anos firmado,
em desespero de causa, pelo infante D. Henrique, com o acordo do seu irmão e do seu
conselho, o filho de Sala Ben Sala deveria ficar refém apenas até ao embarque a salvo
dos portugueses, com entrega na praia de todas as armas, animais e bagagens, levando
apenas consigo «as roupas que pudessem levar vestidas»; e quatro cavaleiros fidalgos
portugueses deveriam ficar reféns dos mouros por ele, apenas até ao seu retorno.
Por sua vez, o infante D. Fernando – com os acompanhantes da sua casa, entre os quais o seu
secretário João Álvares e o físico mestre Martinho, filho de Fernão Lopes – ficaria refém pelo
cumprimento do acordo até à entrega de Ceuta. Depois dos derradeiros combates na praia,
no entanto, os portugueses consideraram que o acordo tinha sido quebrado na sua totalidade,
a frota levantou ferro, e nenhum dos reféns, de uma ou outra parte, foi trocado nos termos
acordados. A partir daí e da recusa de entrega de Ceuta, todos os resgates levados a cabo foram
pontuais, através de pagamentos ou trocas de prisioneiros.
3) ![]() O infante refere-se às escaramuças iniciadas pelos mouros que cercavam
as suas forças na praia, procurarando dificultar o seu embarque, de que resultaram
cerca de sessenta baixas na retaguarda portuguesa.
O infante refere-se às escaramuças iniciadas pelos mouros que cercavam
as suas forças na praia, procurarando dificultar o seu embarque, de que resultaram
cerca de sessenta baixas na retaguarda portuguesa.
4) ![]() A posição de D. Fernando como refém foi, como é óbvio,
assumida voluntariamente, tendo o próprio sido um dos signatários do acordo pelo
lado português, juntamente com o irmão e comandante da expedição, o conde de Arraiolos,
o bispo de Évora e outros senhores do conselho.
A posição de D. Fernando como refém foi, como é óbvio,
assumida voluntariamente, tendo o próprio sido um dos signatários do acordo pelo
lado português, juntamente com o irmão e comandante da expedição, o conde de Arraiolos,
o bispo de Évora e outros senhores do conselho.
5) ![]() Entenda-se sem medida, sem moderação.
Entenda-se sem medida, sem moderação.
6) ![]() A ambição do conde de Ourém nada ficava a dever à
de seu pai. Ela encontra-se patente na empresa
heráldica que o conde tomou para si. João Paulo de Abreu
e Lima (1998) descreve-a com perspicácia do seguinte modo: «dois
guindastes afrontados elevando um listel com o mote NEIS, abreviatura de
neminis, o que conjugado quer dizer 'ninguém mais alto'».
A ambição do conde de Ourém nada ficava a dever à
de seu pai. Ela encontra-se patente na empresa
heráldica que o conde tomou para si. João Paulo de Abreu
e Lima (1998) descreve-a com perspicácia do seguinte modo: «dois
guindastes afrontados elevando um listel com o mote NEIS, abreviatura de
neminis, o que conjugado quer dizer 'ninguém mais alto'».
7) ![]() O leitor atento das muitas teses sobre o políptico notará
que, muito estranhamente, nenhuma das que versam os supostos «acrescentos
espúrios», em cuja gaveta, e sem quaisquer razões científicas,
somos supostos fazer desaparecer coisas incómodas, como a rede
dos pescadores, o objecto negro
indistinto nas mãos de um frade, os lacinhos
do barrete diviso, o sinal vermelho
de seis pernas, os caracteres
do livro ilegível, e mil e uma outras peculiaridades, nos fornece
alguma teoria sobre as motivações de tão estranhas
mexidas na pintura original. Como sempre, o entendimento da totalidade
da obra, que fornece contexto a cada estranho pormenor, revelar-se-á bastante
mais esclarecedor do que a tese das emendas sem rei nem roque: a bainha quase
ininteligível do jovem soldado é de facto algo forçada
e inestética, mas tal deve-se à necessidade de equipar uma
figura importante do políptico – cujo estatuto, como o do soldado
que ocupa o primeiro plano, logo à sua frente, só é perceptível numa fase adiantada
da decifração – com uma arma semelhante às dos reis e cavaleiros, sem todavia a isolar
em relação ao contexto igualitário do painel dos soldados
e suas espadas simples e desprovidas de ornamentos. Uma questão
de intenções no seio de uma rede complexa mas ricamente significativa,
muito mais que de ausência de sentido ao sabor de caprichos
aleatórios e inestéticos que, em si mesmos, só prejudicariam
a composição e entendimento visual da pintura.
O leitor atento das muitas teses sobre o políptico notará
que, muito estranhamente, nenhuma das que versam os supostos «acrescentos
espúrios», em cuja gaveta, e sem quaisquer razões científicas,
somos supostos fazer desaparecer coisas incómodas, como a rede
dos pescadores, o objecto negro
indistinto nas mãos de um frade, os lacinhos
do barrete diviso, o sinal vermelho
de seis pernas, os caracteres
do livro ilegível, e mil e uma outras peculiaridades, nos fornece
alguma teoria sobre as motivações de tão estranhas
mexidas na pintura original. Como sempre, o entendimento da totalidade
da obra, que fornece contexto a cada estranho pormenor, revelar-se-á bastante
mais esclarecedor do que a tese das emendas sem rei nem roque: a bainha quase
ininteligível do jovem soldado é de facto algo forçada
e inestética, mas tal deve-se à necessidade de equipar uma
figura importante do políptico – cujo estatuto, como o do soldado
que ocupa o primeiro plano, logo à sua frente, só é perceptível numa fase adiantada
da decifração – com uma arma semelhante às dos reis e cavaleiros, sem todavia a isolar
em relação ao contexto igualitário do painel dos soldados
e suas espadas simples e desprovidas de ornamentos. Uma questão
de intenções no seio de uma rede complexa mas ricamente significativa,
muito mais que de ausência de sentido ao sabor de caprichos
aleatórios e inestéticos que, em si mesmos, só prejudicariam
a composição e entendimento visual da pintura.
8) ![]() A única diferença entre as lanças tem uma função:
embora os enfeites de todas as três sejam igualmente abundantes,
os fios das duas de trás sugerem o dourado, enquanto que os da lança
do mais humilde dos soldados sugerem o prateado. Mais uma indicação
da inversão da hierarquia
neste painel: maior importância atrás, menor à frente,
e isto através de armas que não sugerem minimamente a individualidade
dos que as empunham (comparem-se com as espadas dos painéis de cavaleiros
e reis)!
A única diferença entre as lanças tem uma função:
embora os enfeites de todas as três sejam igualmente abundantes,
os fios das duas de trás sugerem o dourado, enquanto que os da lança
do mais humilde dos soldados sugerem o prateado. Mais uma indicação
da inversão da hierarquia
neste painel: maior importância atrás, menor à frente,
e isto através de armas que não sugerem minimamente a individualidade
dos que as empunham (comparem-se com as espadas dos painéis de cavaleiros
e reis)!











